Quem costuma seguir o meu blog provavelmente já reparou que eu dou bastante importância ao papel da etnomusicologia na música (e, se me permitem, deixo aqui, aqui e aqui alguns artigos em que faço referência ao assunto), não só porque acho que é um fator bastante palpável em grande parte da música erudita, mas também porque a acho verdadeiramente fascinante e cheia de carisma.
Talvez as primeiras coisas que me viessem à cabeça quando penso neste tipo de música seriam a etnomusicologia espanhola, ou a etnomusicologia cigana, porque são folclores que considero extremamente ricos e que estou habituada a ouvir por todo o catálogo da música clássica ocidental – poderia citar nomes como Franz Liszt, Pablo de Sarasate, Johannes Brahms, Manuel de Falla, ou Béla Bartók para uma pequena saladinha de compositores que trabalharam com este tipo de temas, mas não estou nem perto de abranger toda a panóplia de etnomusicologia que existe por todo o Mundo.
Isto, eu diria, por me estar a escapar (e, infelizmente, escapou-me por muito tempo) um detalhe muito importante: a diferença entre música clássica e música clássica ocidental.
O que eu quero dizer com isto é que a música ocidental chegou ao Japão a meio do século XX e foi adotada sem quaisquer problemas – o povo japonês tornou-se um grande consumidor de música ocidental, de tal modo que se tornou um grande exportador de instrumentos, métodos de gravação de som, e até instrumentos pedagógicos, como os instrumentos Yamaha ou o método Suzuki. E não nos esqueçamos que a palavra karaoke é, também, de origem japonesa, significando orquestra vazia (eis um significado que eu acho extremamente poético, tal como… bem, mais ou menos toda a cultura e língua japonesas em geral).
Ou seja, no meio de tudo isto, a própria etnomusicologia que já existia neste país antes da introdução da música do ocidente foi posta um pouco de parte com toda a inovação e novidades que surgiram no Japão.
Isto não significa, no entanto, que a música clássica japonesa não seja incrivelmente rica e cativante – tal como me foi chamado à atenção no livro Música, só Musica, de Haruki Murakami e Seiji Ozawa, há várias e diversificadas razões que tornam a música clássica japonesa deveras interessante e digna de estudo.
É por isso que o artigo de hoje se dedicará exclusivamente a este ramo tão específico da música clássica, discutindo as suas origens, história, características e, ainda, explicando a maneira como a cultura musical japonesa se reflete na música, terminando com a apresentação de alguns compositores clássicos japoneses deveras relevantes e dignos de menção.
Gostava de começar com uma curiosidade acerca da língua japonesa, que não deixa de me fascinar – e que vai ser útil a seguir – a palavra para música em japonês é a palavra ongaku, sendo o kanji para gaku possuidor de dois significados: música e conforto (bonito, não é?).
Então, antes de sequer falarmos da época em que a música clássica foi introduzida no Japão, eu gostaria de falar sobre uma das tradições musicais mais antigas japonesas: a gagaku, a antiga música da corte que era interpretada durante os períodos Nara e Heian.
Como se pode ser deduzido, o significado da palavra gagaku tem qualquer coisa a ver com música – neste caso, gagaku é a pronúncia japonesa dos carateres chineses que formam a palavra yayue, que significa música elegante.
Esta gagaku tornou-se, então, uma atividade muito apreciada pelos samurais, que procuravam tanto ouvir, como realizar estas atividades para adensar o seu conhecimento e compreensão da realidade que os rodeava e, também, como maneira de enriquecer as suas atividades diárias.
A gagaku era, normalmente, interpretada por um ensemble de instrumentos que chegou ao Japão vindo da Coreia, juntamente com o Budismo: para citar os principais, num ensemble de gagaku temos, por exemplo, o yokobue, uma espécie de flauta que se sopra de lado, o hichirike, um instrumento de sopro parecido com um oboé, a biwa, um alaúde com uma escala mais pequena, o so, ou seja, uma cítara dedilhada, e um tambor denominado taiko.

Portanto, um ensemble de gagaku é denominado de kangen, o que significa que existem dois tipos de gagaku: a kangen, ou seja, a música instrumental (que é constituída por cordas, sopros e percussão), e a bugaku, que é a gagaku na sua vertente musical acompanhada por dança.
Fazendo um fast-forward para altura em que o Japão foi forçosamente exposto à cultura ocidental, ou seja, por volta da altura em que o Imperador voltou a ser a figura dominante na política japonesa, o que seria por volta da década de 1860, houve uma enorme revolução cultural a nível musical: antes desta época, aquilo que temos como música clássica ocidental era virtualmente desconhecido no Japão, que se contentava com a sua gagaku original – no entanto, nos presentes dias, nomes como Midori Goto ou Seiji Ozawa são conhecidos por todo o panorama clássico mundial. Afinal, o que aconteceu?
Aconteceu um fenómeno histórico japonês chamada a Restauração Meiji – nesta altura da história, uma série de medidas foram tomadas pelo governo deste país para promover a dinamização da música clássica ocidental em território japonês- e, entre elas, inclui-se a prática do repertório ocidental pelas orquestras japonesas de gagaku, tornando esta tradição menos proeminente no seu próprio país de origem.
Foram criadas bandas navais e do exército, compuseram-se peças inspiradas na tradição ocidental para estas últimas, houve uma afluência enorme de músicos clássicos no Japão, criaram-se importantíssimas orquestras e marcas de renome como a Yamaha ou Método Suzuki, e, com isto, o Japão tornou-se num dos maiores mercados a nível mundial na área da música clássica ocidental.
Mas com estes dados, surge um facto preocupante – ao destacar-se a música clássica proveniente do Ocidente, a gagaku sofreu uma enorme marginalização por parte das orquestras e intérpretes japoneses.
Ora, esta, para além de ser de prática ancestral, pecava por carecer de notação, ou seja, ser um tipo de música cujo modo de interpretação se transmitia oralmente de geração para geração.
Para além disso, a gagaku e a música clássica ocidental não podiam chocar mais em termos de estética – enquanto que a gagaku era, na sua essência, maioritariamente seca e de pouca emoção, sendo apenas interpretada para oficiais do governo e com um tempo ou inexistente, ou extremamente lento, o grande Período Romântico do Ocidente exuberava em paixão e sentimentos exultantes, e tinha uma gama inteira de compositores bem conhecidos e solistas incrivelmente virtuosos, que tocavam os corações de audiências sem fim. Como é que protegemos música tão fria, e que alguns poderão considerar sofisticada em demasia pela sua complexa filosofia em relação ao silêncio (designada por ma), do apaixonado e arrebatador êxtase romântico?
Possivelmente, o governo do Império Meiji ter-se-á perguntado a mesma coisa – reconhecendo o enorme valor do património cultural e etnomusicológico da música original japonesa, tornaram possíveis várias medidas de proteção da gagaku, particularmente a da devoção da maior parte da semana de ensaios ao repertório tradicional e a concessão de meios para que todos os chefes de cada família de gagaku pudessem continuar a transmitir os conhecimentos necessários para a interpretação deste tipo de música.
Até porque, no fim de contas, a disseminação do repertório ocidental no Japão era mais motivada pela maneira como a música ocidental era usada em situações como cerimónias e afins, e não pela estética em si – o governo pretendia fortalecer o país em termos de poder para o Estado-Nação, mas pretendia, também, promover a educação física, moral e estética na educação das gerações vindouras.
Mas, acima de tudo, o Império Meiji tinha, com tudo isto, um grande objetivo – e este era nada mais, nada menos do que conseguir criar uma música transcendente a todas as culturas: ou seja, uma fusão da tradição ocidental com a tradição japonesa.
Mas como misturar dois estilos tão diferentes? – era provavelmente esta a dúvida que se afigurava mais veemente aos olhos do governo.
E a resposta veio na forma de dois termos muito específicos: rissen e ryosen.
Para usar um exemplo vindo da música ocidental em si, pensemos na música de Debussy: talvez o que a torna especial, e aquilo que é o que mais se destaca na sua obra e até como característica do impressionismo, é a sua textura e sonoridade diferentes.
Isto, possivelmente, justificar-se-á pelo facto de que a corrente Impressionista – que possui Debussy como um dos seus grandes nomes, talvez até um dos nomes fundadores – é característica por se separar das grandes exaltações apaixonadas do período Romântico, e em vez disso se focar em retratar… bem… coisas. Coisas de todos os géneros e feitios, tão diferentes que não vejo palavra melhor que não coisas.
As ações de um fauno durante a tarde. Uma princesa que dança ao som de uma pavana. O cisne que protagoniza uma lenda da mitologia finlandesa. Um espetáculo de fogos de artifício. O luar.
Mas o que interessa aqui para o assunto é a maneira como Debussy chegava a este tipo de sonoridade tão diferente – para além de outros apetrechos bem guardados na sua caixa de ferramentas, como a orquestração, o uso de imenso pedal no caso do piano, o uso das dissonâncias como timbre, entre outros, Debussy usava outras duas palavras que talvez terão um significado mais óbvio do que rissen e ryosen: as escalas pentatónica e hexáfona.
Estas duas escalas já têm ambas uns bons seculozinhos às costas, sendo a hexáfona anterior a Mozart, que a usou como uma piada, basicamente – mas a primeiríssima vez que esta escala foi usada (e temos uma referência muito específica para este acontecimento) foi no ano de 1662 por Johann Rudolf Ahle, e foi usada posteriormente pelo próprio Bach.
Já a pentatónica… tem origens muito mais remotas – crê-se que a sua primeira aparição tenha sido na música da China Antiga, sendo esta considerada a espinha dorsal da música chinesa e japonesa, e também é figurante nos ritmos e melodias tradicionais africanos e na música da Grécia Antiga, onde era chamada de escala suspensa: em síntese, apesar de suspeitarem veementemente de origens muito mais antigas, é ponto certo e assente que a escala pentatónica é, pelo menos, anterior a Pitágoras, ou seja, anterior a 560 a. C.
Portanto, onde eu quero chegar com isto é que estas escalas que Debussy utilizou têm origens em épocas muito diferentes e localizações talvez ainda mais variadas, pelo que, consequentemente, terão sonoridades muito diferentes da escala diatónica a que os Europeus foram habituados durante todos os períodos Barroco e Clássico (isto porque, apesar de já serem utilizados na música da Idade Média, foi no Romantismo que se popularizaram os cromatismos e dissonâncias).
Assim sendo, naturalmente que o emprego destas escalas confere à música de Debussy uma sonoridade completamente diferente, manifestando-se assim como uma das peças do puzzle por detrás do cariz particular da música impressionista.
Ora, se há coisa que não falta na panóplia de apetrechos musicais japoneses são escalas exóticas: para além do modo japonês, que é uma espécie de escala pentatónica modificada, temos ainda as escalas Akebono, Hirajōshi, In, Insen, Iwato, Ritsu, Ryo e Yo.
E, para além disso, as duas escalas da gagaku, as tais rissen e ryosen.
Foi, então, usando estas duas escalas que os japoneses se propuseram a criar música que transcendesse a barreira ocidental e oriental – fazendo uso das formas musicais perpetuadas na Europa, começou-se a escrever música cuja linguagem harmónica provinha da gagaku, criando-se, assim, a característica música clássica japonesa que conhecemos hoje.
E pronto… basicamente, é esta a razão pela qual a música clássica japonesa tem uma sonoridade tão particular. Mas o que seria deste artigo se não se mencionassem alguns dos autores desta mesma música?
Bem… eu chamar-lhe-ia um artigo bastante incompleto. Então, é por isso que (correndo o risco de deixar nomes importantes de fora, pelo que deixo um artigo só sobre compositores japoneses aqui) selecionei 5 compositores japoneses cuja música considero descrever esta estética tão particular: são eles Joe Hisaishi, Ryuichi Sakamoto, Takashi Yoshimatsu, Yoko Kanno e Toru Takemitsu.
Comecemos, então, por Joe Hisaishi, que, na verdade, não se chama Joe Hisaishi – Mamoru Fujisawa, que dá pelo nome anteriormente referido em situações profissionais, é um compositor japonês que, ao contrário do que se esperaria, não é conhecido especificamente por música clássica japonesa, mas sim por um ramo musical muitíssimo específico: a banda sonora dos filmes do Studio Ghibli.
Este Studio Ghibli é nada mais, nada menos, do que um estúdio de cinema de animação japonês, com sede em Tóquio – e Hisaishi relaciona-se com toda esta história por ter colaborado em diversos filmes produzidos pelo Studio Ghibli e dirigidos pelo seu co-fundador, Hayao Miyazaki. Alguns exemplos são, por exemplo, Sen to Chihiro no Kamikakushi (A Viagem de Chihiro – poderá ser mais conhecido por Spirited Away), Tonari no Totoro (O Meu Vizinho Totoro), Kurenai no Buta (Porco Rosso – O Último Herói Romântico) e Mononoke Hime (Princesa Mononoke).
Mas, para além destes nomes e mais nomes que representam, de facto, filmes de anime que possuem uma grande importância no currículo deste compositor, há mais que reconhecer na música de Hisaishi em termos mais musicais, particularmente em questões estilísticas – conhecido por ter um som muito particular, Fujisawa sabe e muito bem como incorporar os mais variados géneros na sua música, desde minimalista e eletrónica experimental a música clássica tanto europeia, como japonesa.
Conhecido principalmente, em termos musicais, pela sua estupenda facilidade em alternar passagens com diferentes atributos em termos de afeto, este compositor apanhou, durante a sua vida, uma década que lhe trouxe várias influências que vieram enriquecer a sua linguagem musical – trata-se da década de 70, em que surgiu a J-pop e a música eletrónica, e com esta última o grupo japonês Yellow Magic Orchestra. Foi durante esta mesma altura que Hisaishi fez a sua primeira apresentação pública, mas seria apenas na década seguinte que seria lançado o seu trabalho de estreia: trata-se de MKWAJU, apresentado ao público pela primeira vez em 1981.
Fast-forward para 2023 e temos um compositor veementemente aplaudido e galardoado pela crítica, que já atingiu feitos incrivelmente notáveis como a composição da banda sonora para as Olimpíadas Paralímpicas de Inverno de 1998, a do filme galardoado com o Óscar Okuribito, e ainda a receção de várias honrarias que incluem sete prémios da Academia do Japão e a Medalha de Honra com faixa roxa, atribuída pelo próprio governo japonês aos cidadãos deste país que contribuam para o progresso do mesmo.
E, para terminar, uma curiosidade (porque nesta altura já deve ter dado para perceber que eu acho a língua japonesa imensamente curiosa): o nome de Joe Hisaishi não veio do nada – foi, sim, inspirado por Quincy Jones, mas usando carateres japoneses. Ou seja, ao escrevermos, em japonês, Quincy, temos Kuinshi, que é representado pelo mesmo kanji de Hisaishi. Joe é simplesmente uma referência ao apelido Jones.
Traduzindo Joe Hisaishi para japonês, ficaríamos, então, com alguma coisa deste género: 久石 譲 (Hisaishi Jō).
E de um compositor japonês para outro (se fosse um compositor finlandês num artigo de música japonesa é que era digno de menção, mas pronto), passamos a 坂本 龍一 – uns kanjis que provavelmente farão mais sentido se eu disser Ryuchi Sakamoto.
E este compositor tem mais ligação a Joe Hisaishi do que se pode imaginar – a tal banda que inspirou Fujisawa, Yellow Magic Orchestra, tinha como membros Haruomi Hosono, Yukihiro Takahashi e nada mais, nada menos do que o próprio Ryuichi Sakamoto.
Mas a verdade é que Sakamoto era um artista notavelmente polivalente – foi não só compositor, como também músico, produtor e ator. Para além disso, trabalhou com variados e conhecidíssimos artistas internacionais, desde o padrinho do punk, Iggy Pop, a músicos que decerto serão bem conhecidos dos portugueses, como Caetano Veloso ou Rodrigo Leão.
E, claro, vale a pena referir também um dos seus mais famosos trabalhos, Merry Christmas, Mr. Lawrence – este filme, cuja banda sonora recebeu um BAFTA, tem Ryuchi como responsável pela banda sonora, mas também como parte do elenco, tendo contracenado com o incontornável camaleão do rock e ator do papel principal no filme, David Bowie.
Para além disso, Sakamoto, em conjunto com David Byrne e Cong Su, não só ganhou o Óscar para a banda sonora de O Último Imperador, por Bernardo Bertolucci, como compôs a banda sonora para filmes como O Pequeno Buda, Um Chá no Deserto, O Renascido, e, por último mas não menos importante, a versão cinematográfica de um livro que eu pessoalmente adoro, O Monte dos Vendavais de Emily Brontë.
No entanto, serão, talvez, os Yellow Magic Orchestra que lhe terão trazido mais sucesso – foram, pois, eles os três que impulsionaram o acid e o techno com o seu hit “Firecracker”, que chegou ao patamar mais alto das tabelas britânicas. Falando sobre Sakamoto em si, este era especializado não só em música eletrónica, como noutro ramo bastante particular: a música étnica, ou Música do Mundo, em que a música tradicional atribuída a uma dada cultura é tocada por músicos que foram criados dentro dessa mesma erudição.
Em suma, este compositor transcendeu as barreiras da música japonesa e, de facto, foi responsável, eu diria, por um pouquinho de tudo aquilo que ouvimos hoje, pois também ele fazia de tudo um pouco – no entanto, é preciso talento para ser bom em todos os poucos, não é mesmo?
Avancemos, então, para o próximo compositor, mas antes gostaria de citar um artigo que eu li enquanto pesquisava escrito por alguém que realmente chegou a conhecer Sakamoto – o artigo fica aqui – o artigo alonga-se um pouco mais sobre o lado filosófico de Sakamoto, fazendo, também, um resumo sobre a carreira do compositor e referindo o filme que foi feito baseado na carreira do compositor, “Ryuichi Sakamoto: Coda”.
https://youtu.be/X6td9KUZMfw
Passemos, então, a Takashi Yoshimatsu: note-se logo de princípio que Yoshimatsu ouviu e procurou muita e muita coisa antes de construir o seu próprio estilo – com 13 anos era fascinado pelos The Ventures e os The Walker Brothers, e com 14 pelas sinfonias de Beethoven e Tchaikovsky. Nada eclético, portanto.
No entanto, esta paixão por sinfonias foi suficiente para o impedir de enveredar pela Medicina, e passou a estudar com Teizo Matsumura, que, de acordo com o próprio compositor, não o influenciou em nada. O que é certo é que as suas obras não dizem o mesmo.
Continuou a experimentar muita coisa. Tentou estudar harmonia e contraponto, mas desistiu após alguns meses. Descobriu o rock progressivo, e com ele Pink Floyd, Yes e Emerson, Lake & Palmer, até chegou a juntar-se a algumas bandas de rock como teclista.
Mas a composição continuava sem dar em nada. Em cerca de 20 competições, nem numa se safou.
Até que a sua sorte mudou.
Yoshimatsu consegue, finalmente, ganhar uma competição com a sua Dorian para orquestra. É depois deste sucesso que começa a explorar a música serialista, sendo frutos desta época trabalhos como Threnody to Toki, de 1981.
Mais, uma vez, sol de pouca dura – a música serialista perde o encanto para Takashi e ele muda radicalmente de estilo, passando a compor num estilo neo-romântico com várias coisas interessantes à mistura – um pouco de rock aqui e ali, mais um jazz à mistura, e, claro, uma visível influência proveniente da música clássica japonesa, ou não estaria a falar dele no artigo de hoje.
Um bom bolinho de estilos musicais, portanto. Mas ainda tem mais que se lhe diga.
A sua obra pode ser maioritariamente triádica, mas possui elementos interessantes como, por vezes, o pandiatonicismo, ou seja, o uso da escala diatónica sem os limites da funcionalidade tonal, as harmonias tercianas estendidas (espero que se traduza assim, mas basicamente é uma harmonia baseada em acordes com intervalos de terceiras), o free jazz atonal, harmonias hexáfonas e, por último mas não menos importante, alguns trabalhos por parte do compositor que incorporam não só instrumentos tradicionais japoneses, como também as escalas e afinações usadas na música tradicional deste país – alguns exemplos deste tipo de peças são, por exemplo, Subaru e Within Dreams, Without Dreams.
E, para lá de tudo isso, temos várias sinfonias deste compositor e um número ainda maior de concertos – incluindos concertos para fagote, violoncelo, guitarra, trombone, saxofone alto e soprano, marimba, orquestra de câmara, piano a duas mãos e só com a mão esquerda, e, por último e ainda mais importante, concertos para instrumentos japoneses. Sem esquecer, claro, Atom Hearts Club Suite, uma suíte para orquestra de cordas em homenagem a algumas das bandas prediletas do compositor: The Beatles, Pink Floyd e Emerson, Lake & Palmer.
E de um aficionado por vários géneros a outra, chegamos a Yoko Kanno: e será bastante mais fácil chamá-la de compositora do que dizer que ela é uma compositora clássica, de jazz, eletrónica, de blues, folk, pop, rock, ambiente, bossa nova, heavy metal, funk e soul (uma designação já com algumas supressões).
A viagem de Yoko pela música começou desde muito cedo, praticando piano e órgão desde a pré, e ainda em tenra idade começando a participar em concursos de composição – no entanto, durante o ensino secundário, Kanno decidiu trocar de disco (…não literalmente) – passou a dedicar-se antes à literatura, chegando a formar-se em literatura pela Universidade de Waseda.
Mas continuava a fazer umas transcrições musicais aqui e ali, quando tinha tempo – no entanto, nada de mais.
Até que um belo dia tudo mudou: um amigo baterista de Yoko decidiu apresentá-la ao ritmo -um ritmo que se afigurou imensamente diferente do que aquele que ela tinha ouvido até então, dado que os pais só lhe permitiam ouvir música clássica.
Claro que Kanno já tinha ouvido bateria antes, na rádio, por exemplo, mas ouvi-la ao vivo pela primeira vez fascinou-a – e foi precisamente este acontecimento que relançou o seu amor pela música.
Ainda estudante da Universidade de Waseda, Kanno compôs a banda sonora para o filme Nobunaga’s Ambition, que se tornou um grande êxito. E, com este feito, a sua carreira estava lançada.
Nos dias de hoje, são muitas mais as bandas sonoras que Yoko já compôs – e como nos diz a própria compositora, ela nunca escreve tendo em mente um estilo específico, mas sim um ambiente – transformando a sua música nalgo único e característico apenas dela. Para citar alguns dos seus trabalhos, temos as bandas sonoras de Cowboy Bebop, Terror in Resonance, Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Wolf’s Rain e Darker than Black, para além do projeto Seatbelts, um grupo dirigido pela compositora que interpreta uma boa fração das suas composições.
E por último, temos Tōru Takemitsu – um compositor que tem muito que se lhe diga, pelo que vou deixar aqui um conjunto de informação mais completo – portanto, Takemitsu, um pouco como Mahler, era uma mistura de extremos: combinava elementos da filosofia oriental e ocidental (um pouco aquilo que o Império Meiji fez, portanto), era fascinado pela fusão entre som e silêncio (o que de alguma forma se relaciona, também, com a filosofia silenciosa da gagaku, a ma). Também é conhecido por fundir a tradição com a inovação, o que já vamos ver ao analisar algumas das suas inspirações, com destaque para a música tradicional japonesa que tem sido o foco de todo este artigo.
Então, o primeiro contacto de Takemitsu com a música ocidental veio de um sítio muito mais sombrio – durante o seu período de serviço militar, o compositor entrou em contacto com “Parlez-moi d’amour”, que ouvia com os seus colegas em segredo.
Depois da ocupação americana do Japão, esta experiência havia de continuar, dado que o compositor continuou a trabalhar para as Forças Armadas americanas, ainda que hospitalizado e acamado. Aproveitando-se da sua doença, continuou a ouvir música clássica ocidental o mais que podia, concluindo que esta prática correspondia a um afastamento da música tradicional japonesa, que lhe trazia à memória os duros tempos de guerra que havia passado ao serviço do seu país.
Com a pouca experiência que tinha, Tōru começou a escrever música inspirada pela música ocidental que ouvia por volta dos 16 anos. Nas palavras do próprio compositor (e numa citação que achei muito bonita), “… comecei [a escrever] música atraído pela própria música como um ser humano. Estando na música, encontrei a minha raison d’être como homem. Depois da guerra, a música era a única coisa. Escolher estar na música esclareceu a minha identidade.”
Uns anos mais tarde, Takemitsu forma a Jikken Kōbō, um workshop experimental de música eletrónica, ou, nas palavras do próprio compositor, “trazer ruído às notas musicais temperadas dentro de um pequeno e ocupado tubo” (uma definição pitoresca, não é mesmo?), e é aí que contacta com vários compositores importantes no contexto da sua obra – principalmente, Anton Webern e John Cage.
Isto para chegar à parte que nos interessa, claro – foi na música de Cage que se espelharam algumas das filosofias de Takemitsu, como os timbres em eventos sonoros individuais, ou a filosofia de Cage sobre o silêncio, que de alguma forma se alinhava com o interesse do japonês na ma da gagaku. E foi, também, o interesse de Cage pela música oriental que curou a aversão de Takemitsu à sua própria tradição – depois de muito evitar a etnomusicologia japonesa pelas memórias duras que esta lhe trazia, chegando até a destruir as suas próprias obras quando se apercebia que estas tinham elementos japoneses, ele finalmente reconheceu o valor da música tradicional do seu país a partir da música do compositor americano.
No entanto, redescobrir a música japonesa não foi tarefa fácil para Takemitsu – depois do tempo da guerra, a música tradicional japonesa foi imensamente negligenciada e até ignorada, havendo apenas um ou dois mestres a praticá-la, sem terem qualquer tipo de reconhecimento pelo seu trabalho de preservação de património. Até nos conservatórios por todo o país era requerido aos estudantes de instrumentos tradicionais que aprendessem, também, o piano.
Mas o compositor não se deixou ficar, razão pela qual é tão importante na preservação do património musical japonês de que podemos falar hoje – acabou por escrever várias peças para instrumentos tradicionais japoneses, e por tentar encontrar uma notação viável para estes instrumentos, tentando, até, aprender a tocar um deles, a biwa (um alaúde com uma escala mais pequena, que era tradicionalmente usado pelos trovadores para contar histórias).
No início, surgiria a obra November Steps, cuja estreia foi dirigida por nada mais, nada menos, do que o próprio Seiji Ozawa, e que possuía na sua instrumentação, a biwa, a shakuhachi (uma espécie de flauta feita de bambu) e uma orquestra, e, em seguida, a menos conhecida Autumn, em que o compositor pretendia não misturar, mas sim integrar os instrumentos.
Mas o compositor possui, também, outros aspetos interessantes – por exemplo, possuía grande afeição por Debussy e Messiaen, dois grandes exploradores da cor e do timbre que ele considerava “os seus grandes mentores” – e não deixa de ser interessante o facto de que Debussy possuía, tal como Messiaen, uma grande afeição pela cultura oriental, da qual é um bom exemplo a Grande Onda de Kanagawa de Hokusai que foi celebremente utilizada na capa da primeira edição de La Mer: talvez a própria afeição das suas grandes inspirações pela sua cultura tenha levado Takemitsu a dar-lhe mais valor.
E por aqui terminamos com este cheirinho da panóplia enorme que é a música japonesa, que penso que justifica o fascínio de nomes bem conhecidos na música erudita ocidental – e, para finalizar, deixo em baixo uma playlist apenas de música clássica japonesa, porque ainda melhor que escrever sobre música… é descobrir música nova sobre a qual escrever 🙂
Então, apenas uma nota de apreço por toda a música que há aí fora cujo conhecimento devemos cultivar e perpetuar – a etnomusicologia é e sempre vai ser uma das bases da nossa cultura, mas também vai ser sempre uma boa maneira de conhecermos, e até entendermos melhor a arte dos outros.
E, para mim, só por isso a etnomusicologia japonesa já é digna de procurar.


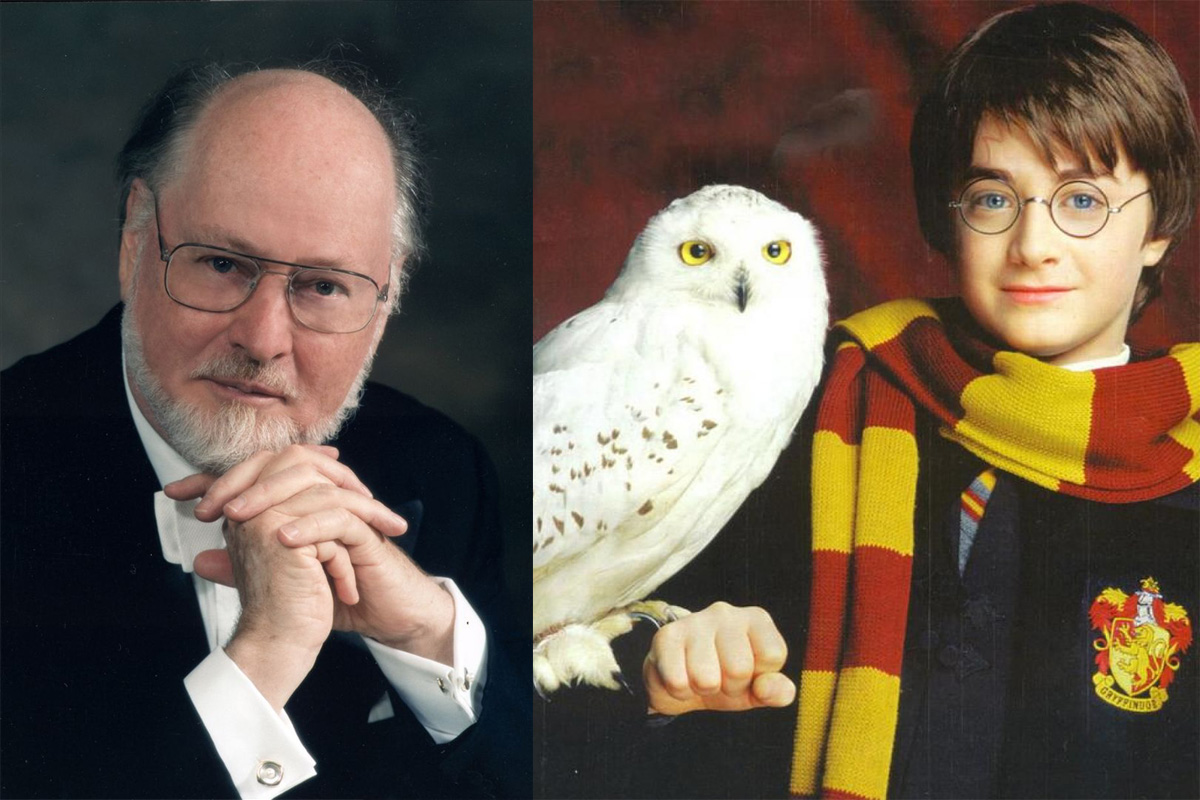
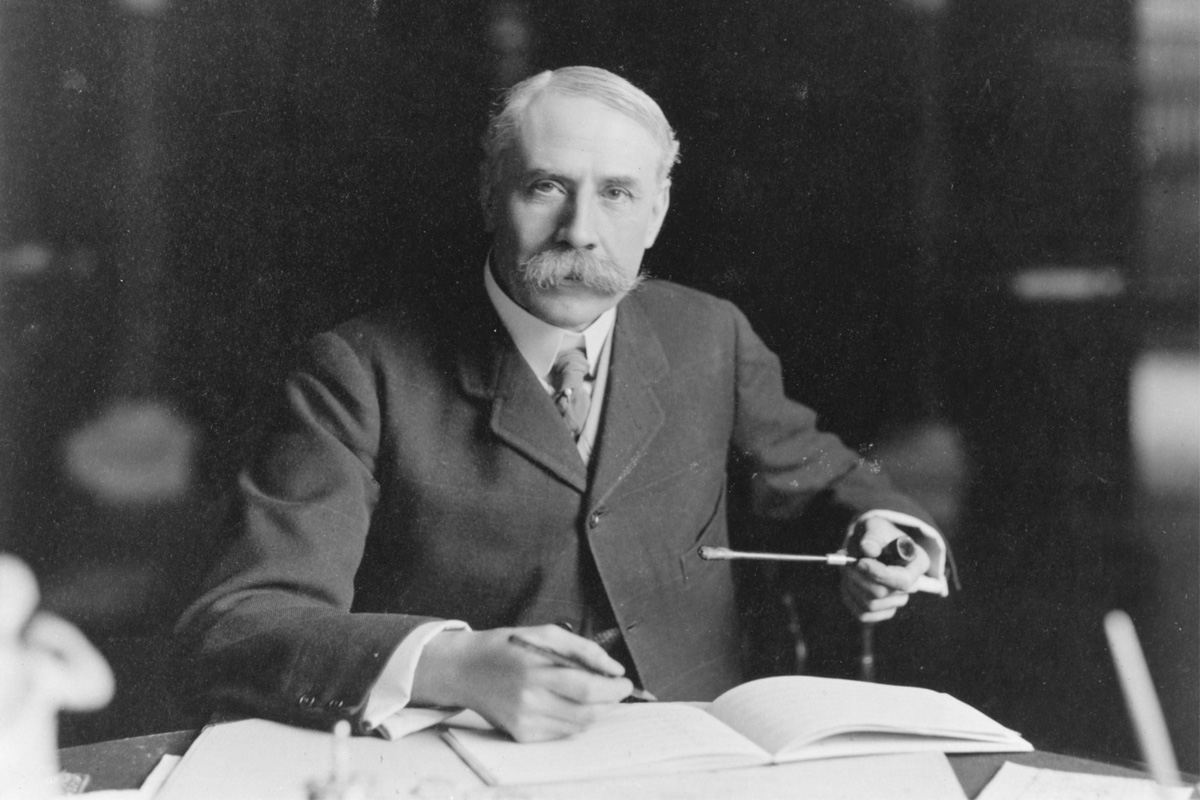


Desconhecia muito do explanado neste artigo… e que revelador que foi desvendar um pouco da Música Oriental!
Arigato.
Ainda bem que assim foi!! ???? Depois de ler o livro que me inspirou a escrever este artigo (Música, Só Música – Haruki Murakami/Seiji Ozawa), também fiquei espantada com toda a música oriental de que nunca tinha ouvido falar. E, no artigo, só me referi mais à corrente erudita, porque ainda há muito mais… pa música japonesa tem um pouco de tudo, desde a sus própria música pop (J-Pop) à enka, uma espécie de “blues” japoneses. De facto, tem muito que se lhe diga, e acho uma temática muito importante a explorar!
Arigato eu pela atenção ????????
Extenso e importante estudo sobre a vertente oriental da Musica, algo desconhecida para os ocidentais. Parabéns Mariana pela dedicação e pela diversificação no nosso conhecimento desta nobre arte.🎹🎼🎷🎺🎻
Muito obrigada, ainda bem que foi interessante!! Considero-o um ramo bastante interessante, vendo todas as suas pequenas particularidades, e sem dúvida interessante de explorar 😊 mais uma vez agradeço e até ao próximo artigo!